Para os autores britânicos, o conceito de planeamento estratégico está intimamente ligado ao planeamento do uso do solo e apresenta quatro características básicas [BREHENY, 1991b]: refere-se a uma escala geográfica concreta; o seu alcance tende a ser global, embora os agentes que o implementam optem por ser selectivos na sua cobertura, concentrando-se em temas fundamentais; devem ser elaborados para períodos superiores aos dos planos que lhe estão subordinados, sendo como tal, normalmente, de longo prazo; a metodologia a adoptar é baseada numa abordagem racional onde é importante a análise e a tomada de decisões.
Os autores que vêem o actual planeamento estratégico territorial como uma adaptação do planeamento estratégico empresarial, consideram que a primeira experiência de aplicação às cidades teve lugar em São Francisco, em 1981, sob a iniciativa da comunidade de negócios local, tendo como pano de fundo o tema do desenvolvimento e como principais questões específicas a habitação e as finanças locais. A crise económica profunda traduzida na perda de população, na quebra do produto interno e na perda de posição em relação a outras cidades norte-americanas, eram algumas das preocupações que se colocavam à cidade. Posteriormente foi aplicado a outras grandes cidades norte-americanas, europeias, australianas e sul-americanas.
A adopção do planeamento estratégico à gestão dos territórios, e mais concretamente ao planeamento urbano, é facilmente compreensível se se comparar a administração da autarquia local à administração empresarial, uma vez que a primeira possui, à semelhança de uma empresa, competências de gestão com um grau de complexidade crescente e sujeito a mudanças tendencialmente mais difíceis de prever. Além disso, actualmente, o forte dinamismo do ambiente geopolítico, social, económico, cultural, tecnológico e administrativo produzem implicações de grande magnitude para o desenvolvimento urbano, as quais, por seu lado, obrigam à transformação e renovação dos instrumentos tradicionais de planeamento, implicando uma maior participação dos agentes locais.
Ainda que possam existir relações entre o planeamento estratégico empresarial e o planeamento estratégico territorial, a adopção dos conceitos e modelos do primeiro não poderá ser feita de uma forma directa, não só porque os objectivos a atingir e os pontos de vista a considerar são manifestamente diferentes como também o serão certamente as decisões a tomar, as estruturas existentes e os recursos a afectar [SALLEZ, 1986].
Assim, sendo uma prática recente e não havendo uma uniformização no conceito, os planos estratégicos a realizar são muito mais intuitivos e criativos, não podendo ser encarados como uma série de reacções em cadeia ou passos articulados sequencialmente, mas sim como uma vontade de actuar com vista a orientar e desenvolver acontecimentos que determinarão o futuro desejado. Esta nova abordagem de planeamento estratégico, imporá "um esforço acrescido de prospectiva e de antecipação para agir num sentido que lhe preserve o máximo de flexibilidade" [GODET, 1993: 252], que permita ter em atenção mudanças e contingências, potencialidades e fragilidades. Ao contrário do planeamento tradicional, a abordagem estratégica requer-se incessantemente iterativa.
O documento do plano só é uma fase do ciclo estratégico que engloba também as actividades de implementação, de controlo e de avaliação ("os planos não são nada, o planeamento é tudo" Gen. Eisenhower). É um planeamento por objectivos e estratégias, associado a um projecto de marketing urbano, ou seja, um modelo de actuação que prevê a ‘venda’ de produtos territoriais [SOUTO GONZÁLEZ et al, 2001: 19].
A apropriação pelas organizações públicas dos referenciais e das práticas do planeamento estratégico empresarial inscreve-se num "movimento de racionalização da acção pública urbana" [PADIOLEAU e DEMESTEERE, 1991], corresponde ao reconhecimento de que as administrações públicas locais poderiam retirar vantagens da utilização de modelos de gestão das grandes empresas, para conduzirem as suas cidades, bem como para escolherem e acompanharem os programas (políticas de desenvolvimento, projectos e acções de renovação urbana, etc.) que compõem essa acção pública.
Em termos gerais, estes primeiros planos tiveram uma orientação marcadamente desenvolvimentista, sustentada pelo ambiente eufórico de finais dos anos 1980, concentraram-se na atracção de recursos exógenos e constituíram um campo de ensaios para a utilização das ferramentas de análise estratégica. O que estas experiências trazem de inovador, a nível do planeamento urbano, é a prioridade que conferem ao nível institucional e aos instrumentos de gestão. Isto decorre do facto de se assumir a cidade, simultaneamente, como um agente de produção (prestador de serviços), uma organização social e um sistema político.
No ano de 1992 iniciou-se uma profunda recessão económica, que durou durante a primeira metade da década de 1990. Esta mudança de perspectivas fez com que o planeamento estratégico mudasse a sua orientação, de tal forma, que na actualidade o planeamento serve basicamente para criar um fórum de discussão entre os principais agentes territoriais para impulsionar o desenvolvimento endógeno. Neste sentido, acentua-se a reflexão estratégica focalizada nos problemas internos das cidades, nas condições de competitividade das economias locais e no potencial de desenvolvimento dos recursos endógenos dos municípios e territórios circundantes.
A salvaguarda dos recursos naturais, a valorização dos factores ambientais, a moderação do consumo de energia e a austeridade constituem-se, hoje, como pressupostos de trabalho fundamentais para a gestão das cidades. A complexidade, a heterogeneidade, a conflitualidade, os desequilíbrios sócio-urbanísticos e a incerteza são elementos que a gestão urbanística tem de ter em conta.
Todavia, segundo FERNÁNDEZ GÜEL [2000], a rápida difusão do planeamento estratégico tem obedecido, em muitas ocasiões, a necessidades de marketing político dos dirigentes municipais, ficando relegado para segundo plano o esforço real de implementação das estratégias. Isto tem dado lugar a alguma frustração, que deve explicar-se mais a partir dessa falta de vontade política para implementar estratégias, do que da capacidade intrínseca do próprio processo de planeamento para dar resposta aos desafios esboçados.
Em Portugal, as experiências de planeamento estratégico em cidades de média dimensão, salvo Évora, foram enquadradas pelo programa PROSIURB, tendo início em 1994. Na segunda parte desta dissertação ocupar-nos-emos deste tema de forma mais profunda.
2.1.2.1 - Características básicas do planeamento estratégico
O planeamento urbano não pode deixar de reflectir aquelas transformações dada a sua liga-ção directa à sociedade. O individualismo não permite a manutenção de uma perspectiva centrada nos valores e desejos colectivos, nem os grupos sociais são os actores principais da cena urbana.
O plano, antes um instrumento adaptado sobretudo à regulação da expansão física da cidade e do uso do solo (num ambiente de uma certa previsibilidade quanto à projecção de tendências anteriores), enquadra agora também objectivos explícitos de promoção económica, de forma a favorecer e criar ‘ambientes inovadores’, atrair investimentos, produzir externalidades urbanas. Como tal, estes planos não são generalistas e reguladores da expansão urbana extensiva, mas sim planos de ‘transformação’, de um urbanismo ‘intensivo’, enquadrador das transformações da base económica urbana. As novas políticas urbanas, nas quais a promoção económica desempenha um papel importante, arrastam consigo uma nova filosofia de planeamento e um léxico novo, de raiz empresarial, e um novo âmbito temporal.
"O planeamento estratégico (…) tentará definir objectivos concretos longínquos (médio e longo prazos) e objectivos concretos actuais (curto e médio prazos); definir a forma de os alcançar (com, quando e onde), o que pode incluir a ultrapassagem de ameaças ou obstáculos (acção estratégica em termos substanciais)" [LOUREIRO DOS SANTOS, 1983: 269].
A solução mais consensual e generalizada da nova política urbanística assenta na adopção do planeamento estratégico como modelo de concepção e operacionalização dessa política. Tornou-se, assim, vulgar pensar a gestão da cidade como se esta fosse uma empresa do ponto de vista organizacional e do processo de tomada de decisões.
Para F. ASCHER, o urbanismo actual emerge no seio de três tendências maiores:
- A incerteza – a acção urbana é percebida como uma acção cujos resultados e os efeitos não são necessariamente e mecanicamente os esperados. Por consequência, é conveniente que o urbanismo não funcione mais na base de rotinas nem a partir de uma codificação burocrática de soluções pré-definidas;
- A inovação – a evolução dos problemas como a sua diversificação, interpelam a criatividade e exigem que sejam empreendidas acções inéditas;
- A coprodução – visa descompartimentar os actores públicos sectoriais e a incitar à negociação com os actores privados, à concertação com os habitantes e à integração a montante das lógicas tradicionalmente a jusante, ou seja, que esta integração se opere desde a fase da definição das acções a empreender.
Assim, a gestão da incerteza, a inovação e a articulação da coprodução colocam os actores numa situação de concepção colectiva e negociada, enunciando o carácter obsoleto do urbanismo clássico e apoiam a hipótese de um urbanismo reflexivo centrado na informação e no conheci-mento, e integrado nas políticas de desenvolvimento. O conhecimento é o produto de um processo de aprendizagem social, que causou a compreensão mútua de uma dada situação problemática e, simultaneamente, forneceu meios para alterar essa situação [MÄNTYSALO, 2000].
Outros autores consideram o desenvolvimento como uma forma de empreendimento colectivo em que a disposição para colaborar por forma a alcançar objectivos mutuamente benéficos é tão ou mais importante quanto os aspectos mais tangíveis do investimento [MORGAN, 1996], nomeadamente o "capital social" [PUTMAN, 1993] e o "capital institucional" [AMIN e THRIFT, 1995], e a capacidade de aprendizagem, pois, o "conhecimento é o recurso mais importante e a aprendizagem o mais importante processo". Como a aprendizagem é um processo interactivo e socialmente adstrito, é importante o contexto institucional e cultural. Desta forma, as políticas estratégicas de desenvolvimento requerem uma inovação ponderada e permanente, pois as realidades são dinâmicas [BAPTISTA, 1999]. Por tudo isto, urge repensar conceitos, instrumentos de actuação e alterar esquemas mentais.
Perante um contexto caracterizado pela incerteza, apela-se, assim, a uma renovação dos modos de pensar e de fazer a cidade. Nesta perspectiva, considera-se que "a concepção da cidade, como as operações concretas de ordenamento, devem ser concebidas tendo em conta os interesses e as lógicas dos actores necessários à sua produção e à sua gestão" [ASCHER, 2001].
A incerteza é ela própria dinâmica, de forma que os tipos de variáveis reconhecidos como ‘variáveis controladas’ e ‘variáveis incontroláveis’ estão sempre a mudar. É todavia, a fronteira entre o domínio do controlo e da incerteza que ela própria é uma incerteza. Deste modo, o sistema de planeamento deve ser um sistema de aprendizagem. Segundo SCHÖN [1971, cit. em MÄNTYSALO, 2000], a sociedade e todas as suas instituições estão em contínuo processo de transformação, de forma que aquilo que se pode fazer é aprender a compreender, guiar, influenciar e gerir estas transformações.
Seguindo Schön, CHADWICK [1978] descreve os sistemas de aprendizagem como sistemas sociais ou organizacionais que são capazes de encontrar novas trajectórias quando o seu ambiente familiar e estável se altera para um ambiente instável. Quanto mais perceptível, previsível e controlável seja o ambiente, mais espaço haverá para a realização de políticas racionais. Ao contrário, quanto mais imprevisível e incontrolável seja percebido o ambiente existe mais espaço para as políticas e valores preencherem o vazio que existe fora da certeza factual.
Em qualquer caso, é a racionalidade do sistema que determina, através da determinação dos seus próprios limites, a relação entre o planeamento e a política, e o domínio de validade de cada um [MÄNTYSALO, 2000].
Um planeamento urbano dito ‘estratégico’ quer-se menos exaustivo e mais centrado no tratamento de alguns temas prioritários definidos ou discutidos conjuntamente com os parceiros económicos e sociais. Este tipo de planeamento pressupõe que a definição dos objectivos estratégicos sejam definidos através da negociação entre múltiplos actores que possuam um bom conhecimento da área e temática em causa. Além disso, por forma a mobilizar a sociedade civil são necessários urbanistas-mediadores e especialistas da comunicação.
Este tipo de planeamento consiste numa abordagem pragmática que comprova a fraca capacidade dos estados em desenvolverem um ordenamento voluntário e a sua incapacidade em mobilizarem os capitais públicos nacionais. Diferentemente do urbanismo normativo e centralizado, o urbanismo estratégico baseia-se na pluralidade de actores e propõe-se criar as mediações, de mobilizar os agentes, de permitir os compromissos entre interesses divergentes.
Trata-se de criar situações de trocas favoráveis segundo um consenso operatório, de criar o processo de deliberação entre público e privado, de apreciar as potencialidades económicas de cada conjuntura. O urbanismo estratégico quer-se iterativo e interaccionista: os actores transformam sem cessar os dados do problema. A racionalidade pragmática que domina a abordagem estratégica baseia-se na implementação de procedimentos de negociação [ASCHER, 1996].
Assim, devido a esta diluição de fronteiras entre os sectores público, privado e associativo, funciona-se cada vez mais através de redes negociativas de dependência de recursos em vez de burocracias determinadas hierarquicamente. Estas práticas eram conduzidas por normas e regulamentos, sendo, por isso, lentas a responder às novas exigências que surgem de contextos políticos e sócio-económicos em mudança.
O planeamento estratégico é um processo cíclico ao contrário do planeamento cujo objectivo consistia na aprovação do plano definitivo, que constituía um produto acabado. Trata-se de um processo de planeamento contínuo, onde devem ser definidas as metas de desenvolvimento, as suas prioridades de actuação e os programas de acção e que exige a organização de um sistema eficiente de acompanhamento e monitorização.
As propostas surgirão ao longo do processo de elaboração do plano, articulando-se com os vários níveis de acção em relação a cada área de intervenção, cuja meta a atingir não são planos mas sim um processo de planeamento gradativo, adaptado a cada situação real. Este tipo de planeamento reflecte, então a necessidade de tomar decisões num contexto de incerteza determinado pela instabilidade e ambiguidade, onde é particularmente importante a renovação das formas de planear.
Neste sentido o ‘planeamento’ converte-se em ‘programação’ [MÄNTYSALO: 2000]. As fases de planeamento e implementação são integradas num único processo. O planeamento assume, deste modo, uma orientação activa rumo ao desenvolvimento. Tradicionalmente, os poderes dos planeadores para com o desenvolvimento têm sido poderes negativos: recusavam as intenções de desenvolvimento que não eram conformes aos planos. Eram poderes mais para acautelar do que em promover a iniciativa.
A visão sistémica do planeamento (ou o planeamento enquanto processo) vem alterar esta situação: "os nossos planos, de facto, devem ser ‘políticas’, especialmente no campo do planeamento social – e poderão ser políticas muito boas, também, no planeamento físico, especialmente onde houver a criação de oportunidades para o investimento privado" [CHADWICK, 1978: 371-372].
O plano estratégico assumir-se-á também como um processo de escolha estratégica, onde o envolvimento dos diferentes agentes responsáveis será da maior importância. A preparação do plano constituirá a melhor ocasião para estabelecer acordos entre os agentes e será um momento decisivo para a determinação e a conciliação dos diferentes objectivos a atingir, com vista a tirar o maior partido das oportunidades e potencialidades existentes e a gerar, face a cenários que se pretendem alcançar.
No entanto, e de forma mais pragmática, outros autores defendem situações híbridas onde as forças do mercado e as iniciativas públicas criam alianças e formas de partenariado dependentes das situações locais e das conjunturas económicas: planeamento estratégico e oportunidades tácticas ritmam o desenvolvimento dos projectos segundo os tipos de intervenção que alternam ou combinam frequentemente processos hierárquicos ou processos negociados [GODIER, TAPIE e CHIMITS, 2002] (Quadro II.3).
Assim, a resolução dos problemas actuais e a prevenção das ameaças futuras que se colocam a uma cidade não podem resolver-se unicamente através de propostas urbanísticas, sendo necessária uma política mais ampla que vise alcançar objectivos estratégicos intersectoriais. Assim, através de um processo de planeamento estratégico ambicioso é necessário orientar e articular as acções sectoriais e estimular o conjunto da sociedade para alcançar os objectivos definidos. Pois, "o desenvolvimento não depende tanto de encontrar a combinação óptima para os factores de produção, mas de saber reconhecer e mobilizar para o próprio desenvolvimento, recursos e capacidades que estão negligenciados, dispersos ou mal utilizados" [HIRSCHMAN, 1958, cit. em HENDERSON e MORGAN, 1999]. Ou seja, a eficiência na organização, a arte de chegar a acordos, de resolução de conflitos e a actividade de cooperação, são primordiais em qualquer processo de desenvolvimento.
Quadro II.3 – Modelos de planeamento
|
Modelo hierárquico ou racional |
Modelo estratégico ou negociado |
|
|
Actores (públicos e privados) e Cidadãos |
Domínio do poder público e dos Estados centrais. O sector privado é um operador. Delegação do interesse público; o cidadão é informado ou consultado. |
Transacções e contratos entre actores públicos centrais e locais, actores públicos e privados. O cidadão é "associado" e pode participar na elaboração dos projectos. |
|
Profissionais |
Centralização das apreciações. Profissionais do urbano dominantes (engenheiros, arquitectos). A engenharia pública orienta e ordena o planeamento e os projectos em colaboração com os peritos liberais solicitados. Primado do planeamento. |
Abertura dos sistemas de apreciações. Integração de novas exigências: gestão, economia, comunicação. Difusão de um modelo empresarial na condução das apreciações. Pluridisciplinaridade e modo de trabalho por projecto. |
|
Gestão de projectos |
Papel dos procedimentos e daqueles que os definem (engenharia pública). Definir soluções para as instâncias e profissionais legítimos (engenheiros e arquitectos). Informar. |
Organização dos intervenientes e dos recursos em redes políticas e técnicas. Centralidade das funções estratégicas e de mediação. Criação de instâncias técnico-políticas de concertação. Estabelecer um consenso e mobilizar. |
|
Temporalidade dos projectos |
Decompor e ordenar: plano, programa, operações. Regras hierarquizadas e a executar no tempo. |
Responder às evoluções contextuais e ao jogo oportunidades-ameaças de um ambiente em mudança acelerada. |
Adaptado de GODIER, TAPIE e CHIMITS [2002].
Além disso, considera-se o sistema urbano como um conjunto integrado, onde as localizações físicas, as redes de infra-estruturas, os processos ecológicos e as actividades económicas e sociais estão interrelacionadas de forma complexa. O sistema de planeamento exige a integração adequada dos departamentos de planeamento (físico, social e económico) de forma a compreender o complexo sistema urbano como um todo.
A ênfase no planeamento holístico sublinha que o desenvolvimento físico deve ser acompanhado pelo desenvolvimento social e da comunidade e auxiliado pelo desenvolvimento económico apropriado. O planeamento para alcançar a integração deste desenvolvimento multifacetado requer uma colaboração intersectorial para conceber capacidades dos sectores público, privado e associativo. Assim, a noção de planeamento holístico está intimamente ligada com a noção de parceria.
Este tipo de planeamento, em vez de criar planos ou procedimentos para regular os resultados físicos, visa o desenvolvimento de um processo através do qual uma renovação sustentável e multifacetada possa ser alcançada de forma colaborativa [HENDERSON e MORGAN, 1999].
De facto, para construir a ‘cidade pós-fordista’ há que atender ao carácter multifacetado e multidimensional da realidade urbana. Em primeiro lugar, há que apostar no ordenamento urbano, pois é a área de intervenção melhor dominada pelo governo urbano, fazendo parte da suas atribuições e competências. O ordenamento urbano, é o resultado visível, inscreve-se numa vontade de mobilização de energias, de fixação de uma ambição, de testemunho de uma renovação.
É através de projectos urbanos, frequentemente custosos e emblemáticos ou ‘faraónicos’, que se deve criar uma imagem de dinamismo atractivo do exterior, mas também para provar aos habitantes e aos actores locais, nomeadamente privados, a vontade e a capacidade da cidade se comprometer por uma nova via.
A requalificação urbana deve ser conduzida rapidamente: é uma condição indispensável da renovação económica. Deve ser conduzida, inicialmente, pelo sector público, abrindo imediatamente as portas às iniciativas e aos investidores privados que estão associados à própria concepção da cidade. No entanto, a reabilitação e a renovação urbanas são, por vezes, menos radicais e de menor importância, tendo em consideração, contudo, o objectivo de criar um ambiente mais propício ao desenvolvimento económico: melhoria dos sistemas internos de transportes, ordenamento de áreas específicas, renovação e reabilitação de centros históricos, desenvolvimento de equipamentos de acolhimento de congressos ou de hotelaria.
No entanto, estas acções de ordem física devem estar pensadas e articuladas com intervenções em outras frentes, nomeadamente, o reforço da segurança urbana, a criação e conservação de espaços verdes e de lazer, bem como, a preocupação de uma oferta cultural (atendendo ao papel dinamizador e atractivo da cultura e da arte).
É, com efeito, de atractividade que se trata quando se fala de desenvolvimento económico. A administração das cidades, em colaboração com outros agentes tratam de ‘atrair’ empresas e de assegurar o seu acolhimento. Sejam elas estrangeiras, implementando medidas fiscais particulares, quer visando o desenvolvimento endógeno e as relações entre pequenas e grandes empresas; quer seja a implementação de ‘parques tecnológicos’.
Em suma, numa época em que os fenómenos sociais, culturais, económicos e territoriais assumem grande complexidade, diversidade e mutações aceleradas, o planeamento estratégico apresentou-se como um novo paradigma de planeamento e gestão susceptível de fazer face aos problemas do desenvolvimento, nomeadamente no que se refere à escassez dos recursos e à mobilização dos agentes. Assim, além de visar conduzir a acção pública a longo prazo, actua a curto prazo, através de intervenções operacionais devidamente enquadradas por objectivos estratégicos. É por isso, que a esta integração de várias escalas e de vários horizontes temporais alguns autores designam a substituição do ‘planeamento estratégico’ pela ‘gestão estratégica’ (com visão de longo prazo).
Além disso, em paralelo ao planeamento estratégico, tem surgido com grande vigor uma teoria e prática de planeamento dito ‘comunicativo’, ‘participativo’ ou ‘colaborativo’, influenciado por disciplinas como a Ciência Política, a Psicologia e a Sociologia, defendido, entre outros, por FORESTER [1989], HEALEY [1997], INNES [1995], SAGER [2002], BOOHER e INNES [2002], como na secção anterior se explicitou de forma mais ou menos aprofundada. A finalidade principal desta corrente de planeamento é a democratização da prática de planeamento e a capacitação das formas de raciocínio e de discurso das comunidades, valorizando componentes outrora excluídas da prática de planeamento. Além disso, como esta teoria de planeamento aborda os seus fundamentos epistemológicos tem (e poderá ter ainda) implicações substanciais na prática de planeamento. Embora alguns autores duvidem da sua eficácia.
Este tipo de planeamento visa substituir a ‘racionalidade instrumental’ do planeamento racional modernista, pela noção de ‘racionalidade comunicativa’ de Jürgen Habermas [HEALEY, 1993]. Habermas estabelece uma distinção entre a concepção sujeito-objecto da racionalidade instrumental e uma forma de raciocínio criado de forma crítica e reflexiva através da discussão e argumentação intersubjectiva – ou seja, a ‘racionalidade comunicativa’.
Este tipo de racionalidade baseia-se no conhecimento prático do sujeito no qual o mundo físico, o mundo da própria experiência e o mundo social das regras e normas estão imbricados. Neste sentido, os sentidos, os valores, a compreensão e o conhecimento são criados intersubjectivamente através da discussão que utiliza diversas formas de conhecimento, raciocínio e representações [MCGUIRK, 2001]. Assim, este tipo de planeamento pressupõe processos colaborativos e críticos de construção do consenso sobre ideias e entendimentos partilhados fundamentados através do diálogo. Desta forma, é diametralmente oposto à racionalidade instrumental e aos processos de criação de conhecimento do planeamento racional.
2.1.2.2 - Pressupostos do planeamento estratégico urbano
O planeamento, entendido como actividade técnico-política cuja finalidade é intervir deliberadamente no processo de mudança social, para acelerá-lo, regulá-lo e orientá-lo, em função de uma imagem de cidade futura, envolve diversos actores com lógicas e racionalidades diferentes. Neste sentido, actualmente, uma das principais funções do planeamento deve ser a busca de meca-nismos de concertação dos diferentes interesses, exigindo consenso e compromisso para a acção.
Este tipo de planeamento, embora seja caracterizado por uma diversidade de conceitos e de entendimentos baseia-se em alguns pressupostos mais ou menos consensuais:
- O processo de planeamento estratégico, para ter sucesso, exige capacidade de liderança
- O planeamento estratégico é um processo de participação baseado no diálogo e no entendimento entre actores públicos e privados
Nomeadamente do poder político. Normalmente, a iniciativa procede das instituições públicas locais, e onde tomam parte vários agentes sociais, públicos e privados, que desenvolvem as acções concebidas no processo de formulação e onde participam os diferentes actores.
É um processo político e pedagógico de diálogo, persuasão, consensualização e contratualização. O rigor das análises e dos objectivos definidos é importante, mas de pouco valem se não tiverem o consenso e o empenhamento dos agentes responsáveis pela sua execução. É assim, baseado na participação pública, cujas características principais são as seguintes: tem lugar em todas as fases, desde a realização do diagnóstico até à monitorização dos projectos; inclui o número máximo possível de agentes públicos e privados; a participação dos cidadãos e o marketing devem ser integrados com um propósito comum; conduz a um acordo negociado tanto entre os agentes responsáveis pela realização, implementação e monitorização do plano, para tal exige o consenso social para a sua execução.
Segundo Ch. KLEIN [1984: 89], o diálogo é uma confrontação verbal ou escrita entre dois ou mais parceiros, que partem de pontos de vista parcialmente ou totalmente diferentes, desembocando numa modificação parcial ou global das respectivas posições dadas à partida. Trata-se, então, de uma prática social que é caracterizada pela escuta recíproca, supondo que as opiniões que se enfrentam sejam modificáveis e que as divergências não sejam de carácter contraditório.
Assim, o diálogo é uma forma de deliberação através da qual vários indivíduos ou grupos ponderam diferentes soluções antes de fazerem a escolha: "nós não deliberamos acerca dos fins (…) mas acerca dos meios para atingir os fins" [Aristóteles, cit. em LONDON, 1995]. A deliberação é necessária quando existem incertezas, ou seja, quando existem razões para escolher um curso de acção, mas igualmente, onde um indivíduo ou grupo apresenta razões para decidir outro. Requer uma discussão contínua, onde se propõem soluções alternativas para os problemas a resolver, devidamente justificadas, acabando por se decidir por uma alternativa. Deste modo, é um processo público que requer a participação e o julgamento fundamentado da população.
As abordagens colaborativas do planeamento [HEALEY, 1997c, 1998a, 1998b], baseadas em Hannah Arendt e Jürgen Habermas, salientam que uma arena institucional de novos discursos públicos e participação cívica é essencial para equilibrar as pressões do mercado e do estado [LONDON, 1995]. Arendt acredita que actualmente, "a ascenção do social" criou um "domínio público" crescentemente dominado por elementos não-políticos e como consequência não-públicos. O conceito de esfera pública discutido por Habermas inclui várias exigências de autenticidade.
Esta inclui abertura, participação voluntária fora das regras institucionais, a criação de um julgamento público em assembleias onde os cidadãos se envolvam em discussões, a liberdade de exprimirem as suas opiniões e a liberdade de discutirem questões de governo e de criticarem a forma como o poder está organizado. Deste modo, defende-se a colaboração entre parceiros no desenvolvimento e execução das políticas, alargando o seu envolvimento para além das elites tradicionais, reconhecendo diferentes formas de conhecimento local: conhecimento experienciado e emotivo, bem como o tecno-racional [HABERMAS, 1984, cit. em HEALEY, 1997b]; e construindo redes sociais ricas como um recurso de capital institucional através do qual novas iniciativas podem ser adoptadas rápida e legitimamente.
LONDON [1995], baseado em RAWLS [1971], delineia outras condições: informação adequada; uma norma de equidade política na qual "a força dos argumentos" prevaleça sobre o poder e a autoridade (ou seja sobre o estatuto dos argumentadores), neste sentido, os cidadãos são não só iguais, mas dotados com a capacidade por um julgamento fundamentado; uma ausência de manipulação estratégica da informação, das percepções, dos processos ou dos resultados; uma ampla orientação pública para alcançar respostas correctas em vez de servir os próprios interesses. Ou seja, visa-se encorajar comportamentos altruístas, onde os participantes modificam ou ajustam os seus pontos de vista depois de se sujeitarem ao escrutínio público. Deste modo, estes participantes só estarão dispostos a comprometerem-se se os outros fizerem o mesmo. A deliberação produz nova informação e novas perspectivas que devem ser essenciais para a formulação de políticas públicas sólidas, sendo um antídoto para a racionalidade instrumental na qual todos os interesses privados são considerados fixos e imutáveis [Ibid.].
Enquanto que o debate é oposicional, o diálogo é colaborativo (duas ou mais partes discutem com vista a uma compreensão mútua), visando uma partilha de valores. Neste sentido, o processo de diálogo consiste numa discussão, moderada por um mediador, sobre uma variedade de escolhas reais, com um quadro temporal flexível para deliberação, devendo ter uma ênfase na partilha de pontos de vista, em vez de fomentar o debate (que normalmente conduz a fracturas), e deve ser baseado na inclusão, cortesia e respeito mútuo. Neste sentido, a finalidade do diálogo é resolver (e mesmo transcender) os conflitos, e não agregar uma míriade de interesses pré-estabelecidos. As principais componentes do diálogo incluem a identificação de compromissos, valores e experiências partilhados e a busca de um campo comum [INSTITUTE ON GOVERNANCE, 1998]. O diálogo salienta a capacidade dos participantes serem persuadidos através de argumentos racionais e afastar interesses particulares em deferência para com a equidade total e o bem estar colectivo da comunidade. Os participantes são desafiados a modelar os problemas, examinando os custos e os benefícios das várias opções, construindo, assim, capacidades de objectividade e pensamento estratégico. Deste modo, as principais potencialidades do processo de diálogo deliberativo são:
- Encoraja e aumenta o respeito por uma diversidade de pontos de vista, enfatizando as experiências pessoais, em vez de factos e dados estatísticos, como ponto de arranque para a deliberação;
- Permite a discussão de questões complexas, permitindo reanimar a democracia;
- Cria oportunidades para parcerias multi-sectoriais;
- Evita a identificação em termos de "nós" e "eles" (corporativismo), podendo ser uma ferramenta educativa poderosa para o fomento da cidadania.
No entanto, o processo de diálogo deliberativo também apresenta algumas resistências, nomeadamente, a frustração devido à morosidade e complexidade do processo de tomada de decisões. Por isso mesmo, apresentam-se-lhe alguns desafios, nomeadamente: encorajar a participação total num processo predominantemente verbal, assegurando o equilíbrio entre a auto-selecção e a representatividade dos participantes; envolver participantes do sector empresarial; manter a imparcialidade dos mediadores; funcionar a uma escala suficientemente ampla para manter a credibilidade do processo.
Assim, deve ser experimentado para comprovar a sua eficácia, requerendo uma variedade de perspectivas. Há que ser sensível às questões locais e regionais. Um processo eficaz requer um compromisso em termos de tempo e recursos, tanto humanos como financeiros, e, nomeadamente, no que se refere à questão da logística e da comunicação. Assim, um diálogo público – bem estru-turado, mediado e organizado por peritos e apoiado com informação factual e de fácil compreensão – pode tornar-se num contributo substancial para qualquer política de desenvolvimento.
- O planeamento estratégico é um processo de interacção e aprendizagem social
- O planeamento estratégico é um processo com continuidade
- O planeamento estratégico para ser eficaz apoia-se no marketing territorial
- O planeamento estratégico é um instrumento de apoio à tomada de decisões
- O planeamento estratégico é um processo de integração de políticas sectoriais
- O planeamento estratégico é um processo com natureza prospectiva, com visão estratégica e criador de novas identidades territoriais
- O planeamento estratégico é um processo que exige selectividade de escolhas
O planeamento estratégico deve entende-se como um processo social através do qual um conjunto de pessoas em diversas relações e posições institucionais se agrupam para conceberem planos e desenvolverem conteúdos e estratégias para a gestão da mudança territorial [HEALEY, 1997a]. Este processo cria não só resultados formais em termos de política e propostas de projectos, mas também uma nova estrutura de decisão que deve influenciar as partes relevantes no futuro investimento. Deve também criar formas de compreensão, de construção de acordos, de organização e de mobilização para influenciar as arenas políticas.
A formulação do plano deve visar mais a articulação organizacional do que a coordenação analítica e conceptual [HEALEY, 1997a]. A formulação de planos estratégicos é, assim, mais um processo de concepção institucional e de mobilização do que o desenvolvimento de políticas substantivas, sendo, pois, uma tentativa deliberada em envolver os actores chave na articulação e implementação das políticas. Os esforços de formulação dos planos desenham a "capacidade inter-relacional" dos lugares [AMIN e THRIFT, 1995].
Assim, não é um processo estritamente técnico, mas, sobretudo, um processo de interacção política, social e cultural, através do funcionamento em rede [MORGAN, 1996] e a aprendizagem por intervenção dos interessados. Onde o sector público, o sector privado e outras instituições se inter-relacionam.
Assim, o planeamento estratégico é um processo através do qual o conhecimento, valores, regras e procedimentos são activamente mobilizados e transformados para produzirem novos conhecimentos e valores [INNES, 1995], é um processo de mobilização política e social, através do qual novas ideias e novos processos são activamente elaborados [HEALEY, 1997b]. A produção e a disseminação de novos discursos é uma dimensão-chave da actividade de mobilização. Esses processos de desenvolvimento de discursos entre vários actores pode gerar o ‘capital institucional’ [HEALEY, 1997b]. Pode criar recursos de conhecimento (capital intelectual), recursos de redes sociais (capital social) e bases de poder (capital político).
Esses processos valorizam a construção da ‘capacidade institucional’ [AMIN e THRIFT, 1995], englobando não só as estruturas de organização formais bem como as relações e as alianças entre os agentes, por forma a tomar decisões estratégicas, através do desenvolvimento discursivo do ‘capital social, intelectual e político’ que poderiam ser obtidos subsequentemente [AMIN e THRIFT, 1995].
Neste sentido, o planeamento estratégico pode-se tornar num processo de mobilização e educação cívica. Os projectos ganham em conteúdo, transparência (a corrupção é mais difícil) e impacte dinâmico, aumentando em eficácia e credibilidade. Todavia, a complexidade deste processo normalmente entra em contradição com os tempos políticos, eleitorais ou governamentais. Por esta razão, um plano deve ter a sua própria calendarização, independente dos ciclos políticos e administrativos das instituições.
Apresenta uma visão de longo prazo e um carácter que se prolonga para além dos mandatos camarários, permitindo distinguir as decisões verdadeiramente importantes das que têm um impacte somente temporário. Um plano estratégico não é o plano de uma determinada equipa municipal, mas deve ser um projecto comum de toda a comunidade para que se possa desenvolver ao longo de vários mandatos com independência das vicissitudes políticas; o planeamento estratégico surge, então, como uma forma apartidária de planeamento, sendo um ‘projecto de cidade’ e não um ‘projecto da câmara municipal’.
Não existindo duas situações iguais, as necessidades de planeamento são necessariamente diferentes. O processo deve ser adaptado e integrado e basear-se na antecipação das necessidades. Deverá ainda ser evolutivo, na medida em que as mudanças estão sempre a ocorrer, pelo que as necessidades não são constantes, mas sim emergentes. Nesta perspectiva, é necessário encarar o planeamento estratégico como um processo contínuo e flexível, que permita, a qualquer momento, adaptar-se a cada circunstância. Pois, "a finalidade real do planeamento eficaz não é fazer planos, mas mudar (…) os modelos mentais dos decisores" [ARIE de GEUS, 1988].
Por isso, o planeamento estratégico exige uma nova cultura da Administração, tanto dos políticos como dos técnicos, representada por um elevado grau de motivação e qualificação, um carácter menos burocrático e capacidade para coordenar e dinamizar as forças da cidade.
Além da participação dos actores urbanos, implica a execução de uma fase de marketing territorial, onde se promovam as potencialidades do território e se mobilizem os seus agentes.
Isto é, não fixa rigidamente um conjunto de objectivos, mas preocupa-se antes em determinar e potenciar as vias que aproveitem as novas tendências, rupturas e oportunidades, seleccionando as acções que lhe dêem resposta. É assim, um processo para a definição dos futuros desejáveis e possíveis para a cidade, das linhas de desenvolvimento económico e social e a determinação das estratégias, meios e acções para atingir esses objectivos. Constituindo, desta forma, uma ferramenta conceptual de gestão das mudanças, susceptível de enriquecer o planeamento urbano e territorial tradicional, ao qual apoia mas não substitui totalmente, com elementos e procedimentos adaptados à complexidade urbana. Apesar das diferenças apontadas entre ambos os tipos de planeamento, o objecto do planeamento estratégico é complementar e não visa suplantar o planeamento urbano tradicional, assegurando um propósito e uma direcção comum, que é o desenvolvimento urbano. Além disso, está orientado para a acção: visa assegurar, desde o primeiro momento, a viabilidade das suas propostas, identificar recursos para a sua execução e envolver os responsáveis na tomada de decisões [FALUDI e KORTHALS ALTES, 1988].
Enquanto que um plano urbanístico se preocupa fundamentalmente em localizar usos de solo, o objectivo último de um plano estratégico é alcançar uma maior competitividade económica e uma melhor qualidade de vida. Assim, o planeamento estratégico estando direccionado para acções integradas de ordem sócio-económica, ultrapassa o mero uso do solo, minimizando desta forma, também, as contradições e fracturas operativas habituais no planeamento sectorial. Deste modo, tem um papel importante na conciliação das preocupações de ordem ambiental, económica e sócio-cultural. Por outro lado, também pode fornecer uma forma transparente, justa e legítima de reconhecimento e resposta à multiplicidade de parcerias, conflitos de interesses e valores que surgem nas áreas urbanas, contribuindo para desenvolver e sustentar formas de governância democrática local [HEALEY, 1997a], ao reconhecer os interesses legítimos de um amplo leque de parceiros, embora cada um destes tenha bases de poder e orientações estratégicas distintas [BRYSON e CROSBY, 1992, cit. em HEALEY, 1997b].
Além disso, tem um carácter flexível, adaptável e contínuo, devendo, por isso, ser constantemente avaliado e monitorizado, o que permitirá considerar as mudanças e reagir ao contexto de incerteza e ambiguidade. Desta forma, "a incapacidade de previsão do futuro é, assim, substituída por uma capacidade de agir com rapidez, sempre que se detectem eventos e dinâmicas consideradas negativas ou positivas" [DOMINGUES, 1996].
O planeamento estratégico dá ênfase aos factores externos, que são frequentemente olvidados no planeamento tradicional, evita o erro clássico de se concentrar no que se deveria fazer em lugar de prestar atenção ao que se pode fazer, ou seja, "desenvolve uma visão/perspectiva realista e estratégias de longo prazo" [HEALEY, 1997c]. É um processo de prospectiva de tendências, oportunidades e ameaças, visando melhorar a posição competitiva de uma cidade. Para tal avalia as mutações nos seus mercados e concorrência, os factores e os actores e, a partir desta avaliação, indica os objectivos desejáveis e explicita as vias, as estratégias, as acções e os recursos para atingir esses objectivos. Desta forma dá-se uma importância considerável aos estudos de diagnóstico e de prospectiva rejeitando o improviso.
Afirma o primado do que se ‘pode fazer’ sobre o que se ‘poderia fazer’. Embora advogue uma visão ampla e ambiciosa, coloca-se, fundamentalmente, no terreno da viabilidade prática, concedendo particular atenção, de forma pragmática, ao ‘como fazer’, à concretização, para tal selecciona um número limitado de questões-chave estratégicas.
Atendendo aos pressupostos anteriores, o planeamento estratégico não é um conceito único nem utiliza sempre a mesma metodologia, devendo ser modelado com precaução consoante as situações. Nomeadamente, há que atender a que as relações entre os actores, os níveis e as arenas de discussão e a articulação de estratégias e de políticas, variam de caso para caso, dependendo da história e geografia locais, da organização administrativa e política formal e das dinâmicas políticas locais [HEALEY, 1997a]. Contudo, se a participação e os consensos alcançados forem insuficientes, se os objectivos forem definidos incorrectamente e se os projectos forem mal seleccionados, ou se não houver lugar a uma monitorização eficaz e não se promoverem os projectos, o processo de planeamento estratégico poderá fracassar. Por outro lado, há que evitar a banalização das ideias e dos projectos, inovando.
Precisamente, porque envolve uma estrutura flexível, um processo relativamente aberto e um acordo global que tem a força de um ‘contrato político’ mas não o de um instrumento legal, requer uma vontade de gestão forte. Mas também se pode tornar num pensamento impreciso e legitimador de numerosas medidas e projectos relacionados somente em teoria.
Os erros mais comuns consistem em gerar expectativas maiores do que a percepção final da sua realização, os objectivos serem muito genéricos, pequena obrigação executiva dos agentes implicados (ou stakeholders), uma percepção exclusivamente política do plano e incapacidade para o executar.
Acrescente-se, ainda, que o plano estratégico deve tornar-se num processo que legitime os projectos urbanos de larga escala. Devendo dar coerência económica e territorial aos principais projectos e assegurar que serve de ligação ao espaço urbano e regional como um todo, e assegurar a sua multidimensionalidade, mantendo um compromisso entre a competitividade económica, a sustentabilidade ambiental e a coesão social. A natureza participativa ajudará a integrar estas dimensões.
Em suma, enquanto que o planeamento urbano tradicional confina a sua agenda a alguns dos agentes governamentais e privados existentes, o êxito de um plano estratégico requer a participação de todos os agentes sociais e económicos de uma dada comunidade urbana. Assim, o planeamento estratégico pode entender-se como um processo sistémico, prospectivo, participado, negociado, contínuo e flexível, capaz de gerir oportunidades e mudanças, de contrariar estrangulamentos e fragilidades, com vista a tirar partido das potencialidades existentes, assumindo um papel mais interventivo e pró-activo perante a realidade.
Sendo concebido como um instrumento de ajuda à tomada de decisões, é um processo de inovação e mudança que, ao introduzir novos participantes, permite desenvolver associações significativas entre o sector público e a iniciativa privada (bem como ao promover a coordenação entre os vários níveis da Administração pública), reconhecendo a importância do diálogo no desenvolvimento da compreensão mútua e no fortalecimento do tecido social, identificando problemas, desenvolvendo ideias estratégicas e propostas que valorizem a construção do consenso em vez de exacerbar os conflitos. Além disso, oferece uma visão global e inter-sectorial do sistema urbano a longo prazo, formula objectivos prioritários e concentra recursos limitados em temas críticos.
2.2 – O processo de planeamento estratégico: questões metodológicas
O planeamento estratégico urbano, para ser eficaz, requer uma metodologia estruturada que resolva de forma eficiente a grande incerteza criada pelo dinamismo do meio, a crescente complexidade dos processos urbanos e a diversidade de agentes e interesses que intervêm no desenvolvimento urbano. A resposta adequada a estes três desafios através de uma boa orientação metodológica facilitará a elaboração do plano estratégico de uma cidade.
2.2.1 - Escolha da abordagem metodológica
Embora, os conceitos e ferramentas analíticos a empregar devam ser seleccionados em função das necessidades e adaptadas às circunstâncias particulares nas quais trabalham os seus utilizadores, uma vez que a aplicação rígida e quase automática das técnicas é menos eficaz do que uma atitude mais adaptativa que acentua a interacção entre o processo analítico e o processo decisório, apresenta-se na secção seguinte um método aglutinador de carácter mais universal para transformar as cidades utilizando o planeamento estratégico. Entretanto, convém fazer algumas considerações gerais sobre os principais modelos de planeamento estratégico.
Existindo uma enorme diversidade de metodologias, PADIOLEAU e DEMESTEERE [1991] distinguem, no planeamento estratégico, duas correntes fundamentais que designam por modelo ortodoxo e modelo interaccionista. Estas tendências possuem como característica de distinção a forma mais ou menos elaborada como os actores chegam às escolhas estratégicas e pela importância da implementação. O primeiro é um modelo mais formal que deriva da metodologia de planeamento estratégico concebido pela Harvard Business School, o modelo SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats), que MINTZBERG [1994] designa por ‘design school’, tendo sido aplicado pela primeira vez à cidade de São Francisco, na Califórnia, em 1981. A experiência foi depois difundida e alargada a outras cidades americanas. Este modelo, muito identificado com os princípios fundadores que herdou da gestão empresarial, define um ciclo estratégico incorporando, como fases importantes, a implementação e os procedimentos de controlo e avaliação que realimentam o exercício de reflexão estratégica.
O modelo interaccionista, tal como o seu nome indica, é desenvolvido através da crítica a um demasiado formalismo do modelo clássico e a um excesso de ‘tecnicidade’ que faz esquecer o ‘jogo estratégico de actores’. Baseia-se nas políticas públicas, que fazem a distinção entre a política ‘poder’ – que tem a ver com os interesses e vontades – e a política ‘programa de acção’ – que desenvolve a relação entre recursos e objectivos [PADIOLEAU e DEMESTEERE, 1991]. Assim, o planeamento estratégico incorpora elementos internos às atribuições e competências das instituições públicas, ao estatuto jurídico-legal destas, à envolvente política e aos constrangimentos orçamentais. A noção de sistema torna-se muito importante para caracterizar as estratégias de planeamento das organizações públicas. Estas estruturam diversos recursos, desenvolvem actividades em função de objectivos que respondem a estímulos oriundos do meio em que se inserem.
Este modelo representa os protagonistas da acção pública como indivíduos ou grupos plurais e sempre empreendedores. Estes actores registam, elaboram e transformam sem cessar os dados presentes num contexto de acção; racionalidades múltiplas e heterogéneas orientam as suas condutas. Estas ideias tornaram os especialistas do planeamento estratégico sensíveis a certas particularidades da acção pública.
No entanto, além destes dois modelos essenciais, outros poderiam ser avançados, divergindo essencialmente na abrangência e na ordem das etapas de faseamento do processo de planeamento estratégico. Nos modelos provenientes das ciências de gestão e dos modelos americanos de aplicação às cidades, o alvo do planeamento é a organização que, face a um quadro de objectivos pré-determinados e perante um determinado conjunto de recursos disponíveis e meios a mobilizar, tem que decidir a programação das acções a implementar para atingir esses objectivos. A principal potencialidade desta abordagem, decorre da aproximação do planeamento à gestão, facilitando a execução das acções. Como pontos fracos, destaca-se o facto de as preocupações com a acção e desempenho da organização terem tendência para valorizar o curto prazo e de se conceber a cidade como uma empresa, além disso, há tendência a esquecer a complexidade e pluralidade dos agentes e fenómenos em jogo na cidade e se reduzir a realidade a objectivos económicos, mais fáceis de quantificar e avaliar.
Nos modelos oriundos das ciências regionais e em textos mais recentes, é valorizado o carácter prospectivo do plano estratégico, desinvestindo-se no método de selecção das acções. O plano estratégico visa, neste caso, essencialmente, explicitar um ‘futuro desejado’, defendendo-se em alguns casos não tanto a definição de um plano de acção, mas o mecanismo de concertação e negociação, falando-se mesmo num "urbanisme régle de jeu" [ASCHER, 1996].
Deste modo, a análise que tencionamos efectuar enquadra-se no esquema representado no Quadro II.4, pretendendo-se veicular uma representação do processo de planeamento, mediante a esquematização das etapas consideradas fundamentais.
Quadro II.4 – Metodologia do processo de planeamento estratégico
|
FASES |
CONTEÚDO |
OBJECTIVOS |
|
Fase 0 |
Definição da estrutura organizacional |
Alcançar o compromisso |
|
Fase 1 |
Diagnóstico (análise interna e análise externa) |
Aprovar os objectivos |
|
Fase 2 |
Estudo prospectivo |
Definir as estratégias e acções |
|
Fase 3 |
Redacção do plano |
Aprovar o plano estratégico |
|
Fase 4 |
Implementação, monitorização e avaliação do plano estratégico |
Implementar e actualizar o plano |
Em relação à abordagem metodológica apresentada, convém efectuar as seguintes considerações. Em primeiro lugar, dado que cada cidade e cada conjunto de problemas urbanos são diferentes, a metodologia de planeamento estratégico não deverá ser um processo dogmático, monolítico e inflexível. De facto, a melhor metodologia de planeamento é ecléctica, ou seja, adapta as melhores características das várias metodologias.
Em segundo lugar, a selecção do conjunto apropriado de técnicas ou métodos de planeamento estratégico deverá estar subordinada às condições locais, bem como à estrutura institucional e à disponibilidade de fontes de informação. Por último, pode-se dizer que o planeamento estratégico requer uma metodologia estruturada, baseada no trabalho de equipa, na qual o processo em si seja mais importante que o produto acabado. Uma metodologia bem concebida ajudará à resolução dos temas críticos. O resultado deverá ser o enunciado de uma série de estratégias que capitalizem os pontos fortes da comunidade e que reconheçam a importância das diversas partes com interesses nos processos urbanos. Além disso deverá ser um processo sistémico sujeito a retroacções e actualizações constantes, nunca sendo considerado um produto acabado.
2.2.2 - Etapas fundamentais do processo de planeamento estratégico
Em termos gerais, no que respeita ao processo de planeamento estratégico, podem-se distinguir três grandes blocos: a definição e constituição da estrutura organizativa, a formulação, que consiste na definição da actuação e a implementação que converte em realidade as opções escolhidas.
Enquanto que os planos racionalistas consideravam que a sua formulação, no nível hierárquico superior, deveria obedecer a uma rigorosa implementação dos mesmos pelos níveis hierárquicos inferiores, na prática existiam fortes desfasamentos entre as intenções e as acções, pois a fase de implementação era vista como um acto puramente administrativo. O planeamento estratégico quebra essa tradição de linearidade entre a formulação e a acção, sobrevalorizando os conceitos de negociação e de acordo. Assim, as políticas elaboradas na fase de formulação podem ser modificadas sem que, no entanto, isso signifique que o plano formulado tenha fracassado.
2.2.2.1 - Definição da estrutura organizacional
Ao contrário do modelo racional de planeamento que acentua o papel do decisor único com uma perspectiva abrangente, sempre que estejam envolvidos vários agentes, com objectivos próprios, o processo de tomada de decisão torna-se mais complexo.
Nestas circunstâncias, os actores podem ter racionalidades diferentes e, por conseguinte, entrar em conflito, procurar alianças, negociações, possibilidades de compromisso e tentam impor o seu ponto de vista graças à utilização de recursos que controlam. Neste caso, a decisão é ditada pela sua interacção. Contudo, é necessário escolher um líder que impulsione o processo, logo no seu início. Só o reconhecimento da liderança determinará de maneira significativa o grau de envolvimento de uma grande parte dos agentes sociais e económicos no processo de planeamento [F. GÜEL, 2000].
Esse líder deve demonstrar credibilidade perante os seus concidadãos, capacidade de convocar a comunidade local e habilidade para conciliar interesses divergentes, sejam eles de índole económica ou social. A escolha da autarquia local como líder do processo de planeamento acarreta tanto vantagens como desvantagens. A autarquia é menos propícia a ser dominada por interesses particulares e dispor de uma maior credibilidade se tiver uma ampla base de apoio. Além disso, sendo o planeamento local uma das suas atribuições, poderá ter um importante papel na implementação, e haver uma maior sensibilidade pela realidade local englobando, nomeadamente, as vertentes social, cultural e ambiental.
Embora o poder (entendido como capacidade para influenciar outrém) possa ser uma força externa negativa que distorce as práticas de planeamento [MÄNTYSALO, 2002], também apresenta um aspecto positivo e construtivo, pois pode criar condições para formular e implementar decisões, se for reconhecido publicamente como autoridade legítima, constituindo, então, um elemento mobilizador do processo de planeamento.
Ainda que seja mais comum ser o governo da cidade a liderar o processo de planeamento estratégico, pode acontecer que sejam outros actores a desempenhar esse papel, como tem acontecido em muitas experiências norte-americanas. No entanto, quando é o sector privado (por exemplo, a Comunidade de Negócios Local) a liderar esse processo é comum dar-se mais atenção à vertente competitiva da cidade, menosprezando o carácter multidimensional que deve ter qualquer processo de planeamento estratégico.
Depois de haver estabelecido a liderança do processo e ter envolvido os principais agentes, é necessário iniciar uma série de tarefas tais como a fixação do seu alcance temporal e delimitação geográfica, a estimativa orçamental, a provisão de recursos humanos e materiais para a sua realização, o desenvolvimento de programas de acção e a concepção do modelo organizativo.
A concepção do modelo organizativo servirá de base para o desenvolvimento de todo o processo. De uma forma geral, podem-se considerar três tipologias [MARCELLONI, 1994].
- A metodologia americana: quem toma a iniciativa e promove o processo de planeamento estratégico é o sector privado, incluindo na estrutura organizativa as entidades públicas;
- A metodologia francesa: caracteriza-se pela contratualização entre o sector público e o tecido empresarial local, no entanto, é liderada pela administração municipal;
- A metodologia mista: que se caracteriza pelo empenhamento partilhado pelas autoridades públicas e as empresas. O processo de planeamento estratégico é fomentado pela administração pública, porém, a predominância na obtenção de consensos diferencia-o da metodologia anterior. Nesta metodologia, o município desempenha o papel de gestor do plano, sendo também responsável por parte das soluções adoptadas.
Todavia, não existe uma solução ideal neste domínio, antes modelos diferentes que permitem ajustar de uma forma eficaz os objectivos de todos os planos estratégicos às realidades locais e nacionais. Além disso, deve atender-se a que o plano evolui ao longo do processo planeamento estratégico ajustando-se às mutações, entretanto, ocorridas.
Articulando as questões referentes às estruturas de organização do poder e à autonomia das estruturas de acompanhamento, o estudo da CE e CMRE [1996] apresenta quatro soluções-tipo que vão desde uma solução municipal, onde todo o processo é conduzido pela autarquia, até uma solução na qual é criado especialmente para o desenvolvimento urbano um organismo autónomo, exterior à autarquia.
Em situação intermédia, apresenta situações que variam entre uma solução interna que passa pela criação no interior do município de uma dependência autónoma interna com o objectivo de conceber e gerir o planeamento estratégico e uma solução externa com uma presença importante da autarquia no desenvolvimento do processo. Cruzando estas possibilidades obtêm-se quatro soluções (Figura 2.1):
- A estrutura municipal interna: o planeamento estratégico é assumido pela autarquia e, como tal, tem a mesma atenção das outras competências;
- A estrutura municipal autónoma: divisão criada dentro da câmara municipal com competências específicas em matéria de planeamento estratégico;
- A estrutura externa com uma contribuição municipal significativa: estrutura criada com uma forte componente municipal, numa organização exterior à edilidade e com a participação dos actores mais relevantes da cidade. Como se verá, ulteriormente, no Capítulo 4, este constituiu, de certo modo, o principal modelo que regeu o processo de planeamento estratégico nos casos incluídos nesta investigação;
- A estrutura externa com participação da câmara municipal: comparativamente corresponde ao que MARCELLONI [1994] designou de metodologia americana, na qual o sector privado lidera o processo, tendo o município um papel menos relevante.
Cada uma destas soluções apresenta vantagens e inconvenientes, mas qualquer uma poderá ter a sua razão de ser, dependendo dos níveis e hábitos de participação da sociedade civil nas políticas urbanas. As soluções exteriores ao município tendem a criar um ambiente mais propício à participação e à inovação, enquanto que as soluções internas são as mais indicadas para situações onde as tradições de participação são débeis, apresentando, sobretudo, vantagens ao nível da responsabilização interna dos serviços municipais e na capacidade de articulação entre os diversos planos municipais e o plano estratégico.
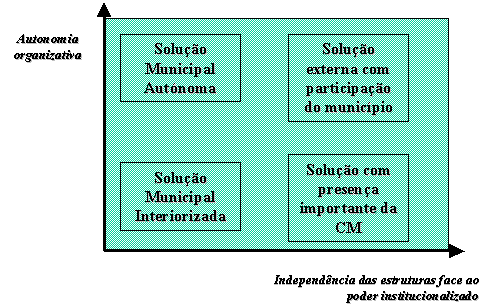
Figura 2.1 – Soluções organizativas de planeamento estratégico. Fonte: CCE e CMRE [1996].
Deste modo, a escolha do modelo organizacional para o processo de planeamento, irá depen-der, quer da estrutura político-administrativa da cidade, quer do grau de participação e relaciona-mento institucional local. A sua concepção deve visar que não se produzam exclusões no processo de planeamento. A máxima representação dos cidadãos, através de formas de participação directa e indirecta, constitui uma das principais garantias de êxito.
Por seu lado, esta participação facilitará aos diferentes grupos da comunidade uma compreensão comum da situação presente e do potencial futuro, visando a união de vontades, das quais depende o êxito do processo de planeamento.
O modelo organizativo deve permitir recolher um amplo espectro de opiniões sobre o presente e o futuro da comunidade e integrar na tomada de decisões todos os agentes públicos e privados cujos recursos e acções sejam necessários para o êxito do projecto.
Por outro lado, deve conseguir que o plano seja um instrumento vivo, que evolua e faça evoluir todos os participantes para que assumam objectivos estratégicos de interesse comum. Além disso, deve assegurar a participação dos cidadãos de forma eficaz e articulada, facilitando a união de vontades e interesses para realizar o projecto de futuro para a cidade. Tudo isto aconselha a criação de uma estrutura flexível que integre os participantes mais significativos em função das exigências das diversas fases do processo de planeamento. Além disso, é necessário que o processo de planeamento seja capaz de gerar um consenso entre as necessidades e interesses potencialmente conflituosos que compõem a realidade urbana. Para tal devem identificar-se os grupos de poder e influência, difundir o processo de planeamento, acordar a estratégia geral do plano e manter o compromisso participativo ao longo do processo.
Assim, o planeamento estratégico deve fomentar a inovação e a mudança organizacional com vista a melhor gerir a incerteza e a aproveitar as oportunidades presentes e emergentes. Segundo VOOGD e WOLTJER [1999: 838], os participantes no processo de planeamento devem incluir indivíduos interessados e afectados tais como grupos de interesse, organizações não governamentais e níveis inferiores do governo. A teoria do planeamento comuni-cativo (ou colaborativo) raramente denota de forma clara um só tipo de participantes ou uma variedade de participação. Em vez disso, refere-se a uma variedade de acepções. Assim, o processo de planeamento deve combinar formas formais e informais, directas e indirectas de participação.
2.2.2.2 - Formulação do plano estratégico
2.2.2.2.1 - Análise diagnóstica
A fase de diagnóstico não pretende realizar um estudo detalhado nem uma análise exaustiva do contexto envolvente. Trata-se de fornecer, a partir de uma série de indicadores sócio-demográficos e económicos, imagens globais do futuro da cidade. Os indicadores de síntese, diacrónicos e comparativos, são interpretados através de uma linguagem de ameaças e de oportunidades. Assim, nesta fase é comum adoptar-se a metodologia SWOT ou DAFO, repartindo-se o diagnóstico em dois momentos: uma parte mais prospectiva, referente às oportunidades e às ameaças (análise externa), e outra mais atenta à caracterização das potencialidades e debilidades intrínsecas à cidade (análise interna).
As opiniões expressas em todos os documentos publicados aqui neste site são de responsabilidade exclusiva dos autores e não de Monografias.com. O objetivo de Monografias.com é disponibilizar o conhecimento para toda a sua comunidade. É de responsabilidade de cada leitor o eventual uso que venha a fazer desta informação. Em qualquer caso é obrigatória a citação bibliográfica completa, incluindo o autor e o site Monografias.com.







